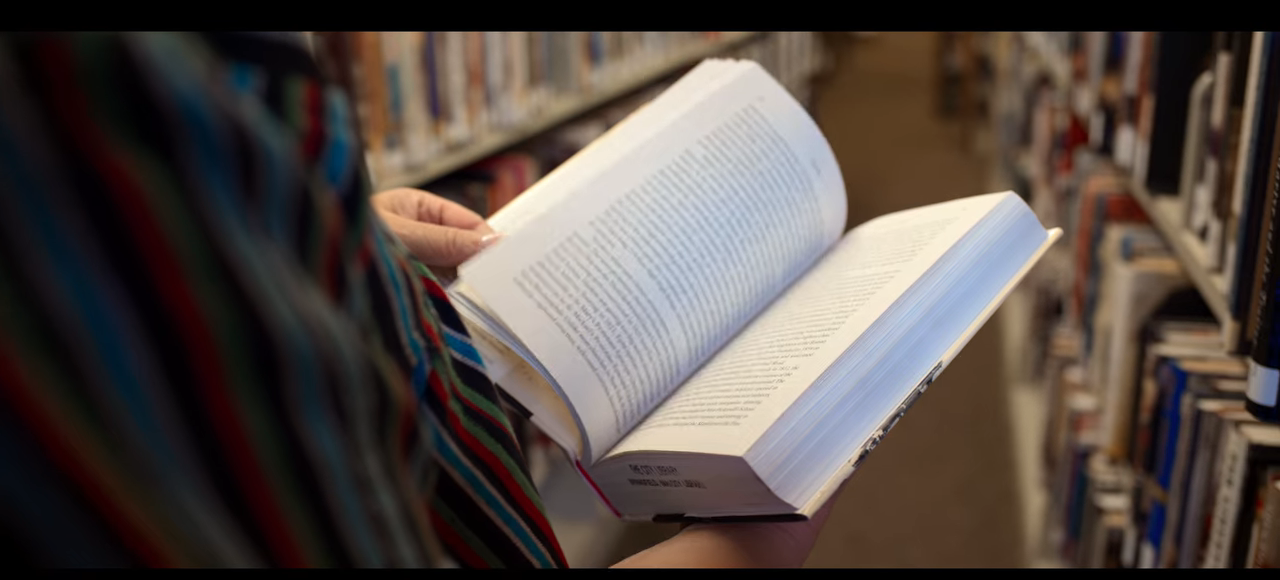Moda Conceitual (Parte 1/3)
/Vamos voltar à melhor década de todas: os anos 90.
Ok. Há controvérsias. Apague o que eu disse. Sejamos um pouquinho mais específicos. Vamos falar de música. Acho que, em termos musicais, não há o que discutir, né? Os anos 90 foram os MELHORES! Nenhuma outra década chega perto.
Com todo o respeito aos anos 70 (que nos abençoaram com bandas como Rush e Pink Floyd) e os lustrosos e acetinados anos 80 (que nos agraciaram com álbuns como Appetite for Destruction e Master of Puppets). Mas essas décadas nem se comparam. Os anos 90 são um assunto à parte.
Os anos 90 nos deram Tupac, Snoop e Dre no Oeste; Biggie, Jay-Z e Wu-Tang no Leste. Os anos 90 nos deram o Rage Against The Machine! Os anos 90 nos deram o Grunge, gente! Precisa dizer mais?
A cena musical dos anos 90 tinha uma atitude inegavelmente vou-com-tudo, tô-nem-aí, quero-mais-é-que-se-exploda. Um lance meio... Nevermind (Nirvana, alguém?). E parte de mim não consegue deixar de pensar que isso nada mais era do que um reflexo do Zeitgeist que imperava na época. Foram anos confusos e muito, muito estranhos.
Foi também nessa década que nasceu o conceito de ‘supermodelo’. Os anos 90 inauguraram uma nova era no mundo fashion, abrindo com nomes grandes como Cindy Crawford, Naomi Campbell e Linda Evangelista, e fechando com o maior nome de todos: a brasileiríssima Gisele Bündchen.
Música e moda parecem existir como dois lados da mesma moeda ou dois lados do mesmo cérebro. Um não existe sem o outro. Os dois se complementam. E como a maioria dos adolescentes dos anos 90, eu usava meu gosto musical e meu estilo fashion (ou, na verdade, a falta de ambos) para expressar meus sentimentos, encontrar minha identidade e manifestar minhas opiniões.
Minhas armas preferidas eram uma camisa de flanela xadrez e calças jeans estilo baggy. Pois é. Não vou nem tentar mentir. Eu era metido a grunge. Digo “metido” porque eu cresci em uma escola particular alemã em São Paulo, no maravilhoso clima brasileiro, sob o olhar atento e constante dos meus pais orientais que priorizavam a educação e a performance acadêmica acima de tudo.
O que significa que eu não tinha nada em comum com os adolescentes nascidos e criados na fria e chuvosa Seattle, negligenciados por pais ausentes, deixados meio que à deriva, e que VERDADEIRAMENTE entendiam o que Cobain, Vedder e Cornell diziam em suas canções. Mas por alguma razão super desconhecida (Soundgarden, alguém?), a estética e a ética grunge falavam comigo.
Meus colegas de escola também se vestiam de acordo com suas convicções.
Alguns chacoalhavam suas longas cabeleiras ao som de Iron Maiden ou Black Sabbath. Outros usavam jaquetas e botas de couro, tocando Ramones ou Die Toten Hosen em seus aparelhos de Walkman (vai vendo como eu sou velho...). E ainda havia os eventuais clubbers, que curtiam bandas como The Prodigy e The Chemical Brothers, em uma época em que a maioria de nós não entendia o que era música eletrônica e... entendia menos ainda o que a galera clubber vestia.
De toda forma, foi durante esses tumultuados anos do colegial que eu vim a entender que roupas não são apenas para proteção ou para embelezar.
Elas são significantes.
Assim como nossas canções, bandas e álbuns favoritos, nossas roupas contam histórias. Elas representam quem somos, refletem nossa maneira de pensar e simbolizam o que faz nosso coração bater mais forte naquele momento específico da nossa vida.
Em outras palavras, nossas “escolhas fashion” têm significado.
Conceitos têm o poder de dar significado às coisas e, assim, criar valor para elas. Neste sentido, a moda é (e tem o potencial de ser) tão conceitual quanto qualquer outra forma de arte. Isso não é uma conclusão teórica. É a constatação de um fato.
Eu sei disso porque, como um rapaz de 15 anos cheio de inseguranças, eu experimentei esse poder em primeira mão: saber que outros alunos da escola também estavam vestidos com camisas de flanela xadrez significava que eu não estava sozinho nas minhas angústias adolescentes. E essa compreensão era extremamente valiosa para mim.
Desde então, passei a ter um apreço muito maior por design de moda. Eu não me interesso por coisas como “tipos de tecido” e nem presto atenção a coisas como tecnologias têxteis ou coisa que o valha. Espero que os engenheiros têxteis de plantão não se ofendam comigo, mas a verdade é que, seja lá por qual razão, esse tipo de coisa não me interessa.
O que me interessa é olhar para alguém ou para um grupo de pessoas vestidos de uma certa forma e tentar entender os porquês que existem por trás daquele estilo em questão.
Qual é a daquela corrente de metal pendurada para fora do bolso dele? Por que ela está vestida com um foulard enrolado em volta da cabeça? Qual a mensagem por trás de uma certa cor ou de uma determinada estampa na camiseta? Essas são as questões que tornam a moda interessante para mim.
Foi também nos anos 90 que assisti a um dos filmes mais fortes da minha vida: Malcolm X, dirigido por Spike Lee, lançado em 1992 e estrelando Denzel Washington no papel do ativista americano. O filme teve um impacto tão grande em mim que, alguns anos depois, decidi ler o livro By Any Means Necessary: Trials And Tribulations of the Making of Malcolm X, escrito pelo próprio Lee e por Ralph Wiley.
Como o próprio título do livro sugere, Lee fala sobre o “making of” de sua obra-prima. Ele aborda as ameaças que recebeu do Nation of Islam. Ele nos conta sobre suas brigas épicas com os estúdios Warner Bros., por causa do orçamento do filme. E ele dedica quase um capítulo inteiro para falar sobre a meticulosa e exaustiva pesquisa que foi feita como parte do processo de criação e design dos trajes de época – suntuosamente detalhados – que vemos filme.
É aqui que entra... Ruth E. Carter.
Ruth Carter é uma figurinista de Springfield, Massachusetts, e já trabalhou com nomes como Spike Lee (Faça A Coisa Certa, Malcolm X), Steven Spielberg (Amistad), John Singleton (O Massacre de Rosewood, Quatro Irmãos) e, mais recentemente, Ryan Coogler (Pantera Negra).
Ruth Carter é INCRÍVEL. Não apenas porque ela ganhou o Oscar de Melhor Figurino em 2019, pelo seu trabalho no blockbuster da Marvel Pantera Negra. Não, não é por isso. O Oscar é legal e tudo mais. Mas ele é apenas a ponta do iceberg. Não é por isso que ela é um exemplo de profissional criativo para mim.
Para mim, o que faz dela uma designer brilhante e inspiradora é o fato de ela se enxergar como uma pesquisadora, acima de tudo. A quantidade (e a qualidade) de pesquisa que há em seu processo criativo não têm paralelos. Essa pesquisa começa no momento em que Carter recebe o roteiro e vai até o momento da prova dos figurinos com os atores.
Existe uma série de vídeos produzidos no estilo de documentário, chamado “Academy Originals”, de propriedade da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Um dos episódios é justamente sobre Carter, no qual ela nos fala sobre seu processo criativo e nos explica de onde vêm suas ideias.
Primeiro, ela conta como tudo começa com o roteiro.
“Geralmente, eu gosto de ler o roteiro e viver a história. (...)
(Na primeira leitura), cores começam a pipocar na minha cabeça. Eu vejo a paleta de cores.
A segunda vez que eu leio o roteiro, eu foco na imagem geral, na visão ‘macro’, de cada personagem.
E daí, na próxima vez que eu leio, eu começo a entrar nos detalhes de cada personagem, individualmente (...)”.
Em outras palavras, ela repassa o roteiro TRÊS VEZES ANTES de sequer começar a rabiscar, desenhar ou conceber qualquer coisa.
Ela continua sua explicação e pula para a parte final do processo: a prova dos figurinos.
“Um dos aspectos do processo criativo que eu mais amo é a prova dos figurinos.
Muitas vezes, as ilustrações, as pranchas, as paletas de cores, as amostras, tudo isso vai por água abaixo quando dois artistas se juntam e discutem “como eu posso contar a história desse personagem através das roupas?”
Por isso eu passo tanto tempo com os atores. Nossas provas de figurino costumam durar umas duas horas, durante as quais, os atores se tornam uma espécie de canvas”.
Isso significa que mesmo durante a prova de figurino, a última etapa antes da produção das roupas propriamente dita, Carter ainda faz suas pesquisas, coletando informações, pegando novos inputs, e com base neles, fazendo ajustes finais, mudando aqui e ali.
Sabe, alguns criativos têm a capacidade de conceber as ideias mais brilhantes assim, do nada. Sério, eu não tenho a menor noção de como eles conseguem fazer isso. Eu conheci alguns criativos assim durante minha carreira, sobretudo redatores. E eu não tenho vergonha de admitir: eu os invejava. Eu sempre me maravilhei com a forma com que eles eram capazes de chegar aos textos mais poderosos e aos slogans mais espirituosos assim... num estalar de dedos.
Quem dera eu fosse como eles.
Infelizmente, eu não sou.
Pelo contrário: eu sou o tipo de criativo que precisa fazer uma longa pesquisa antes de sequer começar a criar. Talvez por isso eu me identifique tanto com o raciocínio criativo de Carter: porque eu entendo o que ela está fazendo quando mergulha nas suas pesquisas. Quando ela faz isso, ela está buscando entender o contexto antes, para assim, se sentir preparada para criar seus conceitos depois.
A pesquisa tem um efeito indispensável e extraordinário no processo criativo: ela alimenta a ideia. Ela torna a ideia mais forte ao conferir mais profundidade, precisão e veracidade aos conceitos.
Quando você faz sua pesquisa, e faz da maneira correta, sem pular nenhuma etapa, quando você conduz sua pesquisa do jeito que Carter conduz, ou seja, de forma implacavelmente detalhada e cuidadosa, algo espetacular acontece: suas ideias e conceitos tornam-se praticamente inatacáveis, de um ponto de vista objetivo.
Subjetivamente, claro que as pessoas sempre terão o direito de gostar ou não da sua ideia, independente de quanta pesquisa você tenha feito Mas quando você faz sua pesquisa da maneira que ela deve ser feita, do jeito correto, e ainda assim as pessoas não gostam da sua ideia, isso significa apenas que ela não é a ideia certa (no sentido de não ser a favorita). Jamais significará que ela é a ideia errada (no sentido de ser incorreta).
Deixe-me explicar essa diferença, entre uma ideia “não ser a ideia certa” e uma ideia “ser a ideia errada” com um exemplo real.
Em 2011, a seleção de futebol da França trocou de patrocinador. Após 40 anos de parceria com a Adidas, les bleus (os azuis) decidiram mudar para a Nike. Obviamente, a primeira missão da Nike foi criar o novo uniforme do time. E, na minha opinião, eles acertaram na mosca: a camiseta é absolutamente perfeita. Eu até comprei uma para mim (isso que eu nem gosto de futebol!). O vídeo abaixo mostra um pouco do processo criativo por trás do design daquele que se tornou o uniforme de estréia da Nike para a équipe de France.
Bom, a maioria das pessoas que eu conheço amou o novo design. Mas houve aqueles que não curtiram. E tudo bem. Arte é algo muito subjetivo. Para algumas pessoas, a ideia que a Nike teve para o novo uniforme não foi a ideia certa. O que significa apenas que, para essas pessoas, o design da Nike não foi o favorito delas. É isso. Diga o que quiser, chame o design do que quiser, mas não há nada de ERRADO com ele: a cor está correta. O emblema está correto. Até a frase estampada atrás do emblema, e que representa a diversidade que existe na seleção francesa (nos differences nous unissent), está correta.
Vamos imaginar a seguinte situação agora. Digamos que a Nike tivesse criado um uniforme tão lindo, cool e elegante, que seria uma unanimidade. Digamos que TODO MUNDO tenha amado. Mas com um porém: ao invés de um galo (o símbolo da França), a Nike colocou uma águia. Ao invés de azul (a cor oficial da seleção francesa), a cor do uniforme é laranja.
Digamos que a ideia por trás da águia seja representar a liberdade, ou seja, la liberté. Digamos que a ideia por trás da cor laranja seja simbolizar energia, força e resiliência. São ótimas ideias, no sentido de que estamos falando de um time de futebol. Mas considerando que a águia é o animal que representa a Alemanha, e que laranja é a cor que simboliza da Holanda, não importa o quanto tenhamos gostado do novo design: a ideia por trás dele está INCORRETA.
Viram a diferença?
Se você é como eu, ou seja, alguém que não sabe NADA de futebol, provavelmente existe a chance de você cometer alguns erros, usando o laranja no lugar do azul, e a águia no lugar do galo. Mas quando você faz sua pesquisa, as chances de você cometer esse tipo de deslize cai para praticamente zero.
É nossa responsabilidade, enquanto criativos, nos certificarmos de que nossas ideias jamais estejam INCORRETAS.
Motivo pelo qual temos de fazer nossa lição de casa E nossas pesquisas.
A ideia mais poderosa é – e sempre será – aquela que as pessoas estão dispostas a “comprar”, tanto literalmente (pagando por ela) como figurativamente (acreditando nela). E as pessoas só compram coisas que são valiosas para elas, em maior ou menor grau. Compramos coisas que tenham algum SIGNIFICADO para nós. No caso de uma ideia – de um conceito – nós compramos uma ideia quando sentimos que ela nos representa, de alguma forma.
Ruth Carter se mostra um ás absoluto neste sentido. Assistam às entrevistas dela. Leiam artigos sobre ela. Vocês verão que duas palavras sempre estão presentes em seus discursos. Um substantivo e um verbo: “pesquisa” e “representar”. E essa combinação cria uma situação extremamente delicada para ela.
Enquanto criativos, quanto mais pesquisa fazemos sobre um determinado assunto ou projeto, mais inputs adquirimos, mais conhecimento acumulamos e mais insights somos capazes de ter. O resultado disso é que a tentação de criar conceitos que englobem TUDO o que foi aprendido e descoberto durante a pesquisa é muito, muito grande. É o nosso ego falando, sabe? Queremos mostrar tudo aquilo que sabemos sobre tal assunto.
Em outras palavras, é fácil cair na armadilha de se pensar “mas eu não posso deixar nada de fora, pois tudo é importante”. Quando criativos caem nessa armadilha, normalmente o que acontece é que as ideias tendem a ser tão amplas e tão genéricas, que no final, ela acabam se parecendo com a maioria dos aeroportos do mundo: insípidas, sem identidade, e o pior de tudo, não originais.
“Nada é mais bonito do que um sketch feito em um pedaço de papel”
Ruth E. Carter
Bom, então como saber o que deve ser mantido e o que deve ser cortado da pesquisa?
Quais são os critérios?
Em uma entrevista à Vanity Fair, em 22 de dezembro de 2020, intitulada ‘Black Panther's Costume Designer Ruth E. Carter Breaks Down Her Iconic Costumes’, Carter deu a resposta perfeita para essas perguntas:
“A parte mais difícil de ser uma figurinista é que (...) nós estamos por trás das câmeras, mas também na frente delas (...). Há muitas pessoas e camadas envolvidas na criação de um figurino – desde vestir a pessoa no set de filmagem até comunicar ideias – algo que eu preciso constantemente gerenciar, para manter os pés no chão.
Todos nós queremos ser o centro das atenções, mostrar nossas coisas, nos colocar na frente de todo mundo e (dizer): ‘olhem para mim, olhem para mim’!
Mas muitas vezes, o melhor é dizer ‘NÃO olhem para mim’. Muitas vezes, o certo é: ‘vamos ser sutis’.
Acredite ou não, é preciso – SIM – adotar aquela mentalidade de que ‘menos é mais’. Há também uma necessidade constante de se ter uma visão MACRO, olhando a composição da cena como um todo, e não apenas o figurino. Eu preciso estar, o tempo todo, ciente da INTENÇÃO e da composição da cena”.
Em outras palavras, não tem a ver com ela, Ruth Carter. Muito menos com seu ego. Não se trata de mostrar para o diretor o quanto ela sabe sobre o assunto. A própria Carter disse: não tem a ver com ‘olhem para mim, olhem para mim’! Pelo contrário. Tem a ver com ‘NÃO olhem para mim’.
Às suas palavras, eu adicionaria o seguinte: “Não olhem para mim...Ao invés disso, olhem para a cena. Concentrem-se no personagem. Prestem atenção na história que está sendo contada”.
Resumindo, uma vez que a pesquisa está feita, é assim que você decide o que será mantido e o que será cortado.
Você se pergunta: POR QUE eu estou mantendo isso?
Pense assim: figurinos custam (muito) dinheiro, ou seja, qualquer detalhe que você queira adicionar a eles, qualquer mudança que você quiser fazer neles, tem de ser justificável. O estúdio, o diretor, a produtora, eles vão querer saber por que você está adicionando isso ou aquilo, por que você está mudando essa ou aquela cor, por que você está desenhando o figurino desta ou daquela forma.
E para aqueles que pensam conceitualmente, “porque fica mais bonito” não é e jamais será uma resposta aceitável. É preciso haver um porquê.
Cada item de vestuário (de minúsculos acessórios a ternos elaborados) precisa ter um significado. Cada detalhe (das texturas às cores) precisa ter um sentido. Os figurinos precisam representar algo específico. Eles devem servir a um propósito específico no filme.
Às vezes, o objetivo é inspirar e destacar uma fala de um personagem. Outras vezes, é mostrar quem são os personagens, de onde vêm, e como estão ligados uns aos outros.
Carter é provavelmente uma das figurinistas mais conceituais que já passaram por Hollywood. Seus figurinos, por si só, contam histórias. E cada uma dessas histórias cumpre um papel não apenas na composição da cena, mas também na narrativa geral do filme. A seguir, vamos conferir como essa abordagem conceitual de Carter funciona.
No filme Malcolm X, por exemplo, Carter nos convida a conhecer três períodos diferentes da vida de Malcolm, através de três figurinos diferentes.
Primeiro, temos os extravagantes zoot suits, com suas cores fortes e brilhantes, que representavam o período em que Malcolm vivia traficando nas ruas, com uma atitude arrogante e cheia de vaidade, e um estado de espírito marcado pela malandragem. Havia aquele exibicionismo e egocentrismo típicos de quem se sente intocável.
Depois, temos os uniformes azuis, no estilo ton-sur-ton, do tempo em que ele esteve preso na penitenciária de Massachussets. Carter deliberadamente “esfriou” a paleta de cores durante as cenas na prisão, uma vez que a intenção dessas cenas era mostrar um período mais frio, triste e – posteriormente – pensativo e contemplativo da vida de Malcolm.
Para Carter, essa transição, das cores vibrantes dos zoot suits para as cores frias e desbotadas dos uniformes jeans da penitenciária, significava a transição do próprio Malcolm, de um jovem impulsivo que pensava apenas em ganhar dinheiro ilegalmente nas ruas para um homem adulto sereno, religioso, educado e articulado.
Finalmente, temos o terno que Malcolm usa durante seu primeiro encontro com Elijah Muhammad. De acordo com Carter, “o terno era velho, grande e um pouco amarrotado”. Isso não foi por acaso. Foi intencional. Aquele terno, que Carter chamou de “um dos figurinos dos quais mais me orgulho” tinha um sentido enorme na cena, pois simbolizava a humildade de Malcolm. O terno mostrava que ele era um homem mudado depois da prisão. A vaidade e o egocentrismo representados pelos zoot suits não existiam mais.
Carter foi longe e não poupou esforços (como sempre) na pesquisa que antecedeu o design dos figurinos de Malcolm X. No seu episódio da série Abstract, da Netflix, por exemplo, ela nos conta até que nível de detalhes ela foi para criar os zoot suits.
“Eu pesquisei exatamente qual o comprimento do terno, quão estreitas deveriam ser as calças, que tipos de correntes acompanhavam, que tipo de relógio de bolso ia junto, qual o comprimento da pena. Tudo isso para que a gente pudesse experimentar, de verdade, a sensação de vestir um zoot suit”.
Ela também não economizou na pesquisa quando foi desenhar os uniformes da prisão e o terno usado no encontro com Elijah Muhammad.
“Eu queria saber mais coisas sobre Malcolm X. Não o lado ativista, mas o lado “ser humano”. Como ele tinha sido preso no Departamento de Correções de Massachusetts, escrevi diversas cartas para eles, pedindo para ver como foi a vida de Malcolm.
Tive acesso a relatórios médicos, sua ficha criminal, e também a algumas cartas escritas por ele. E eu percebi que sua caligrafia foi mudando, sua gramática ia ficando cada vez melhor, à medida que ele ia estudando. Consegui aprender um pouco mais sobre Malcolm X através de seus textos.
E isso foi muito importante, já que eu estava encarregada de criar roupas que ele usava numa época em que não se sabia muito sobre ele e não havia muitas fotos dele. E eu queria ser capaz de tomar algumas decisões que eu sabia que seriam criticas no sentido de contar sua história”.
Viu? Não falei? Quando eu disse que Carter se enxergava como uma pesquisadora acima de tudo, eu não estava mentindo. Afinal, quem vai ao extremo de pedir até relatórios médicos para desenhar e criar um figurino? Mas ela não fez isso à toa. Ela tinha um propósito muito claro em mente. E o propósito era ser capaz de contar a longa, complicada e multi-facetada história de Malcolm X da maneira correta.
Carter não é a única a criar figurinos dessa forma no mundo fashion. No próximo post, conheceremos um pouco mais sobre outros figurinistas, igualmente incríveis e brilhantes, que abordam a moda da mesma forma que Carter.
Conceitualmente.
Até lá!