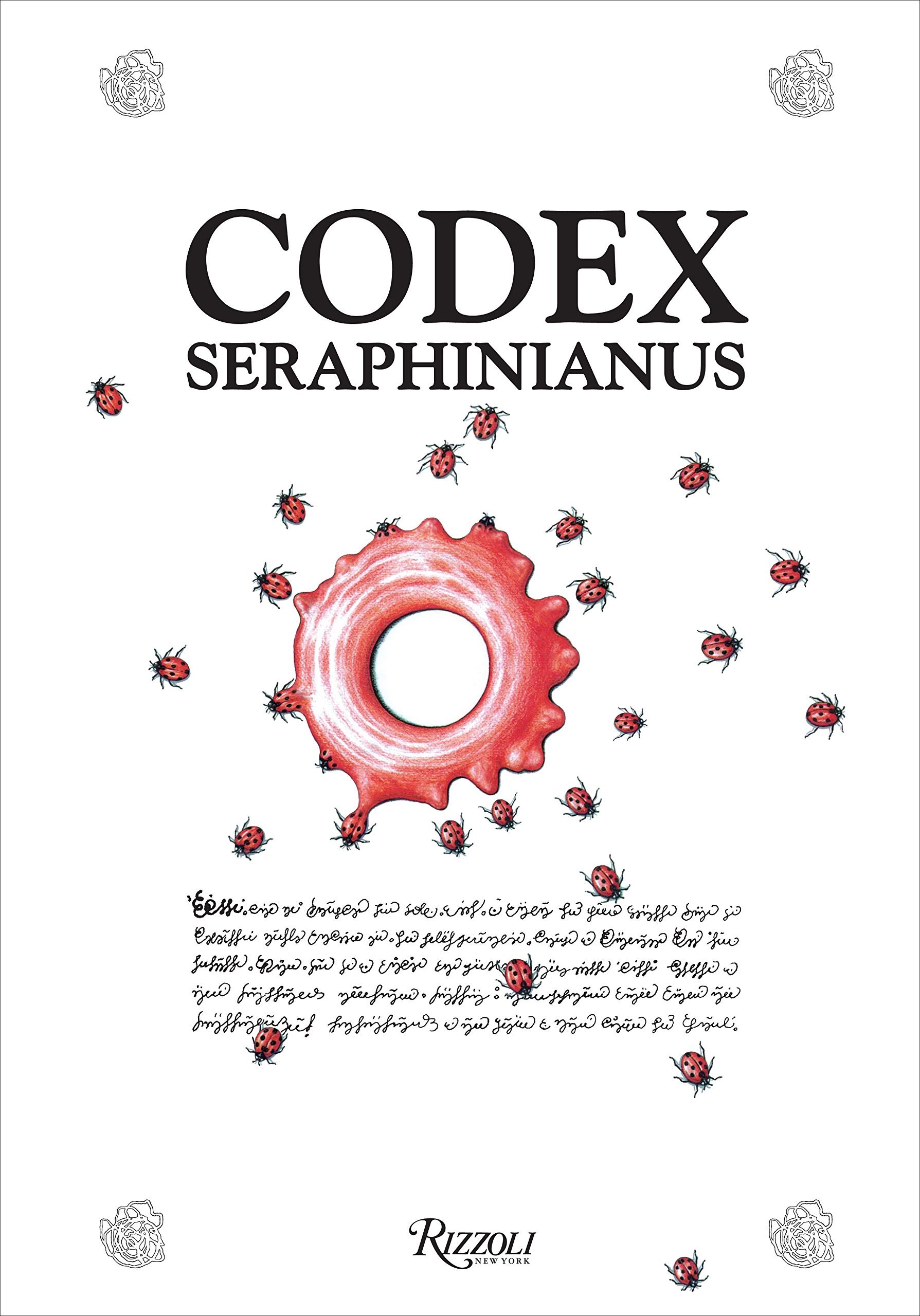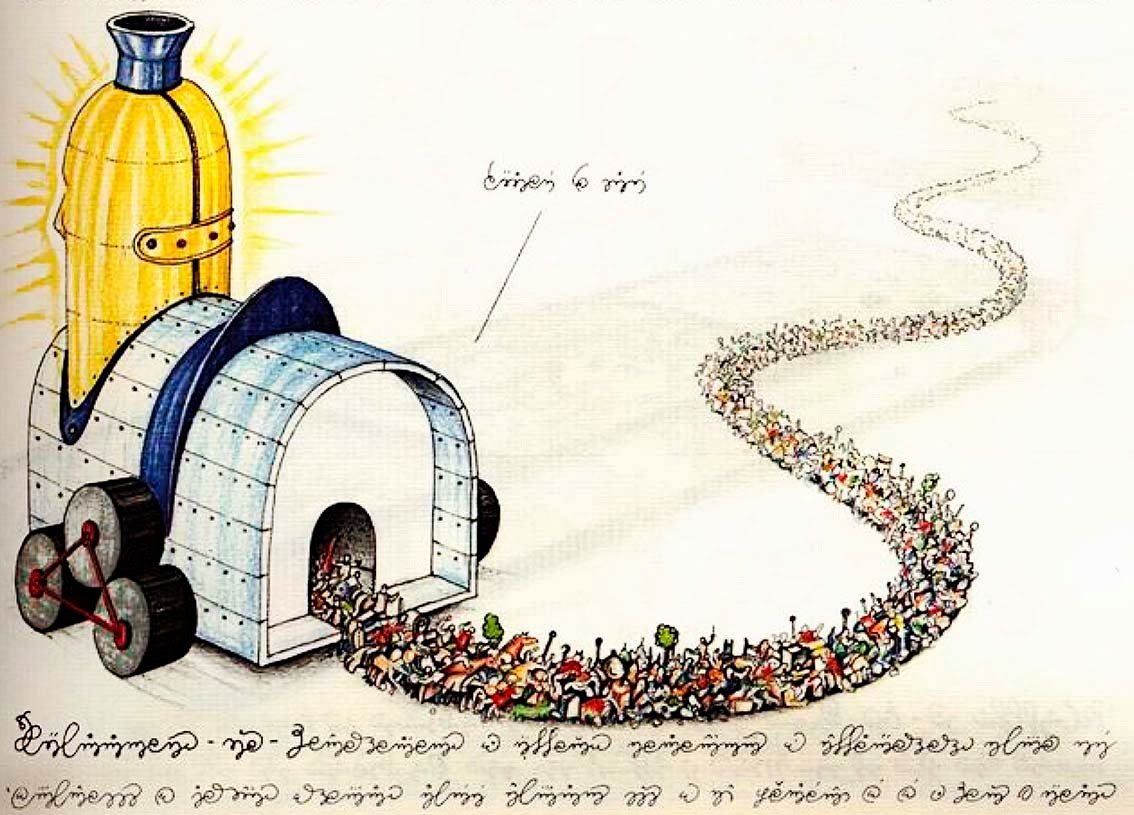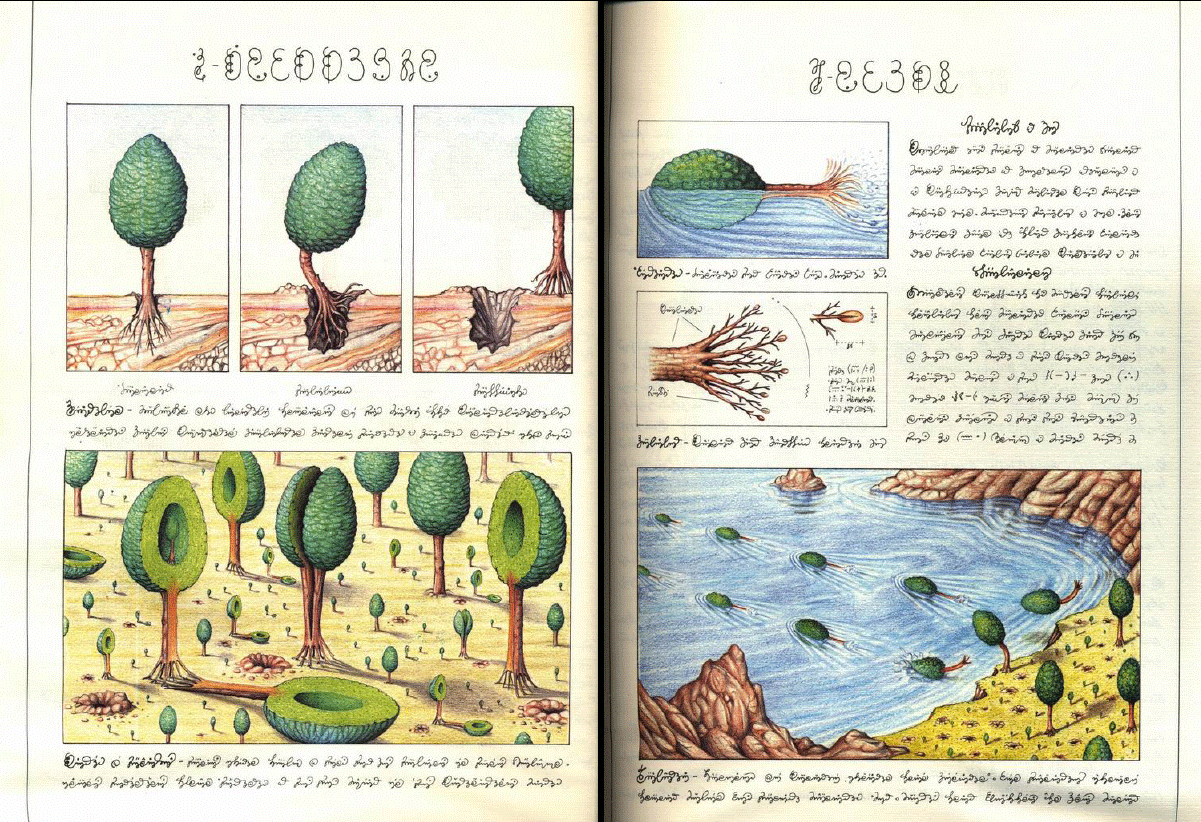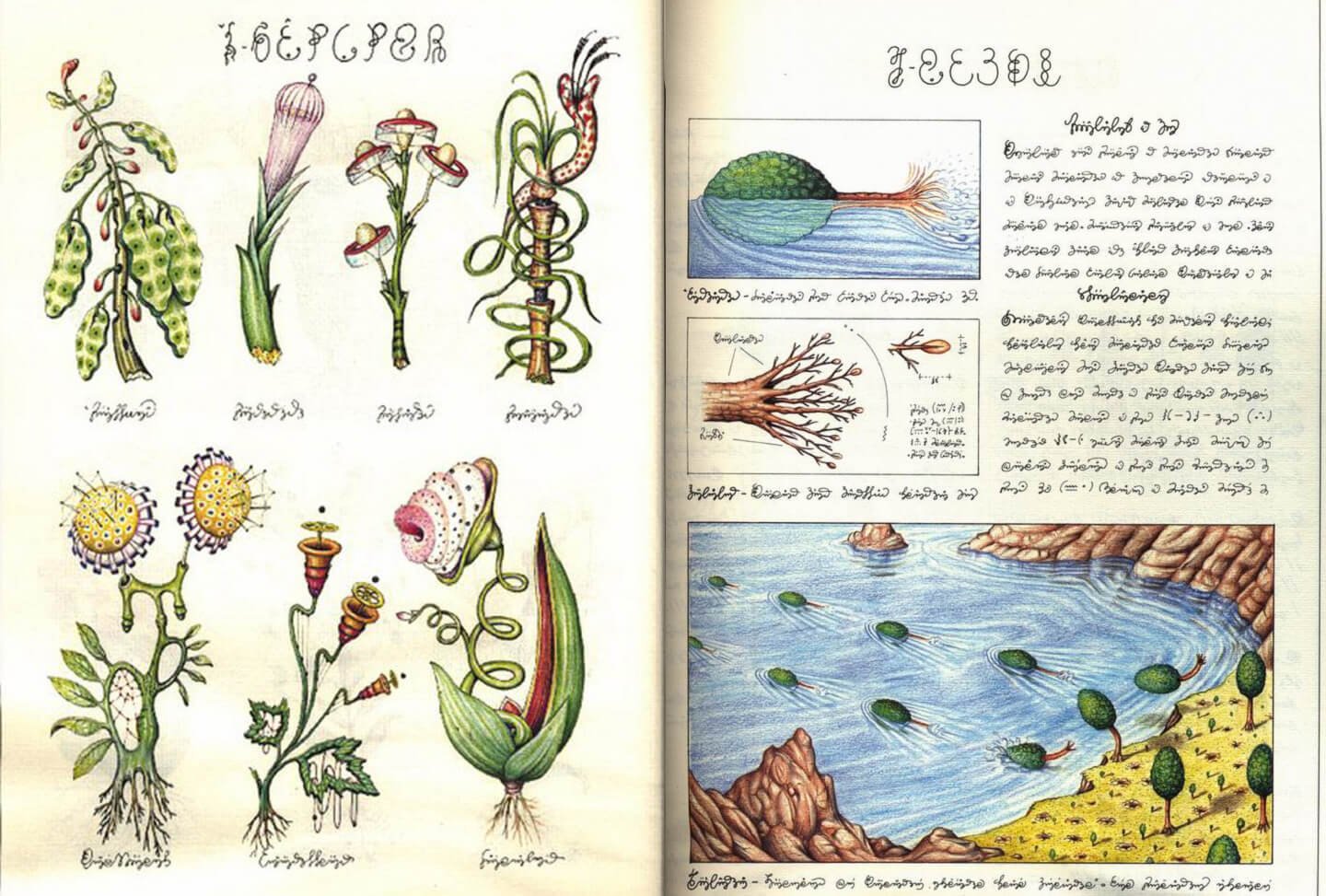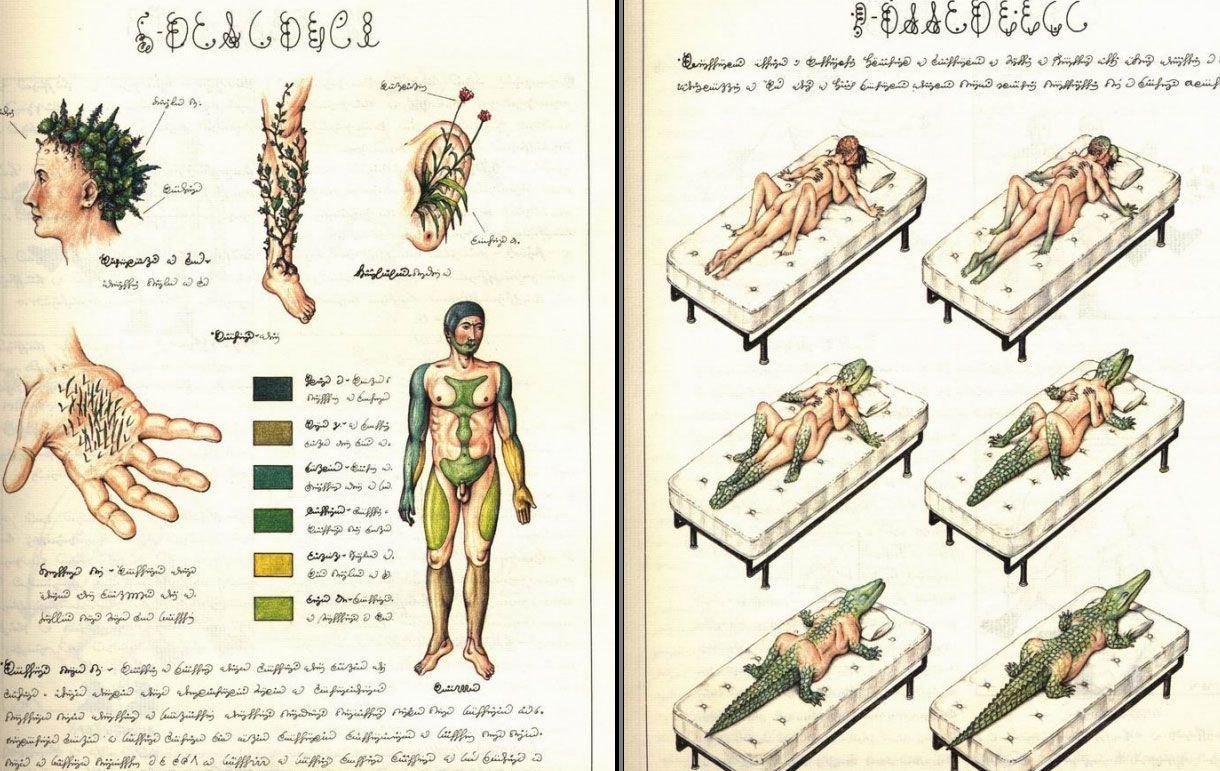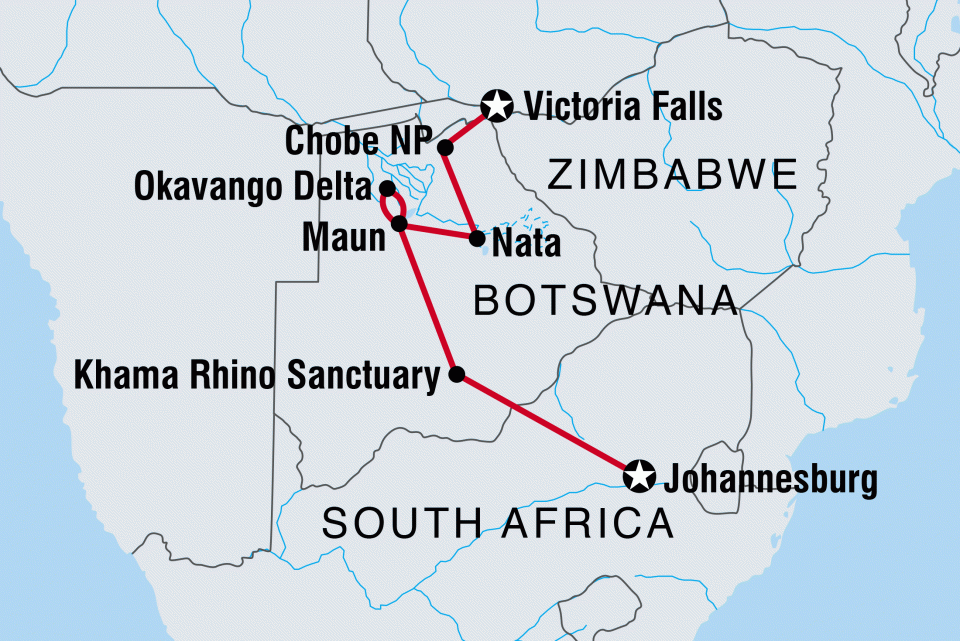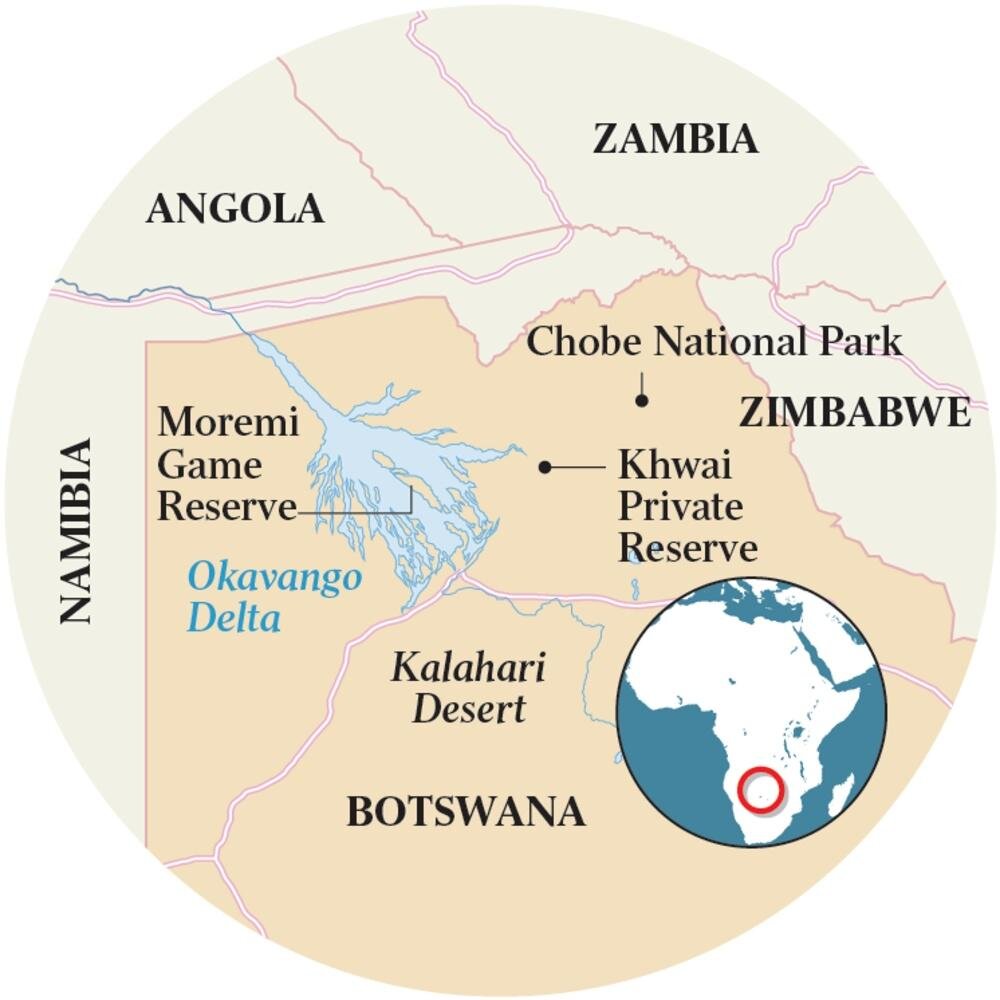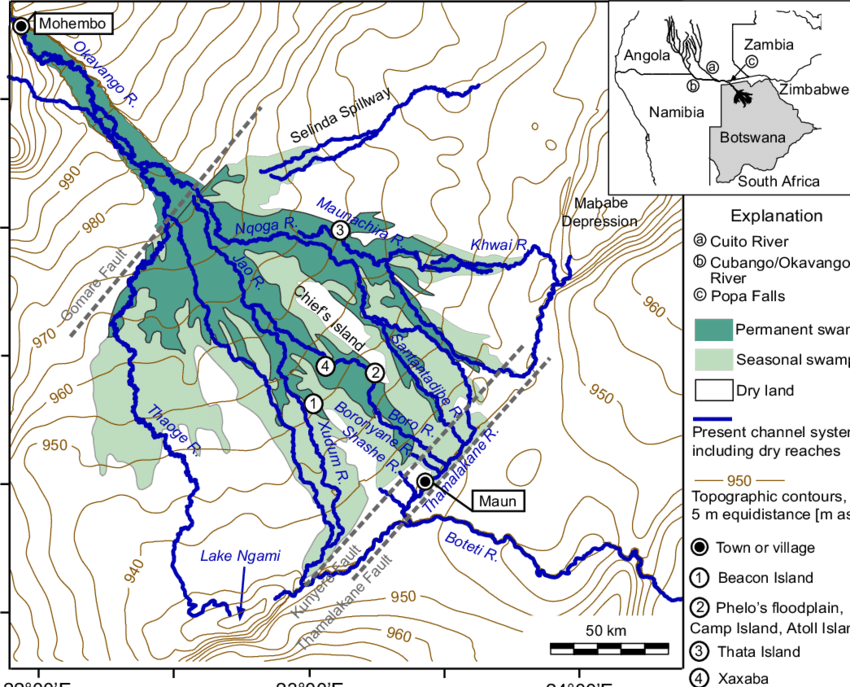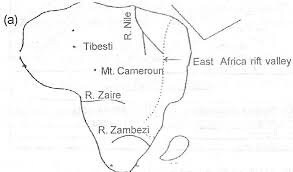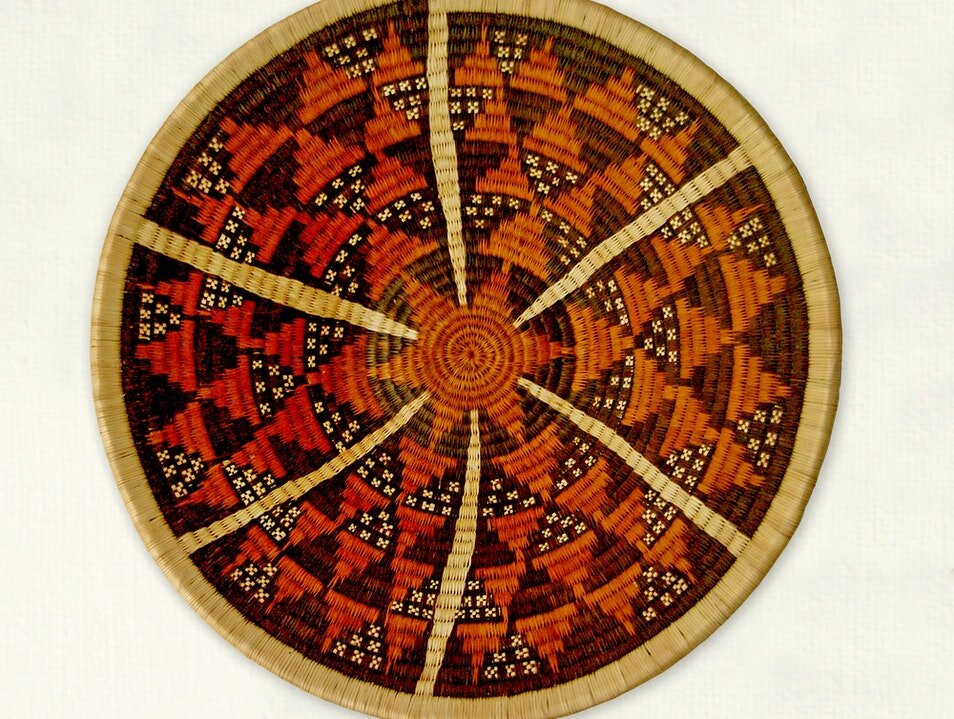Conceito vs. Ideia
/Qual a diferença entre um “conceito” e uma “ideia”?
Pegue um dicionário, qualquer dicionário, e você verá que essas palavras são sinônimos.
E são... até certo ponto.
Digo isso porque um conceito é – de fato – uma ideia.
Mas – pelo menos pra mim – é um tipo muito particular de ideia, uma vez que ela possui, em si, um senso de “FINITUDE” e de “PEREMPTORIEDADE” (olha que palavra chique?... ;o))
Fica mais fácil de entender com um exemplo.
Por exemplo, tomemos o conceito de “AMOR”.
Enquanto ideia, “amor” é o tipo de ideia fundacional.
Existe algo de definitivo nela.
É uma ideia fundamental.
Acho que é exatamente por isso que usamos conceitos para explicar as coisas para as crianças.
É através de conceitos, afinal, que as crianças entendem o mundo ao redor delas.
E algo de super estranho, mas também de muito lindo, acontece quando um conceito é assimilado.
De repente, vira um vale-tudo.
Não existem mais limites.
E toda ideia conta.
Querem ver? Imagine o conceito de “elefante”.
Uma criança que cresceu assistindo a desenhos da Disney provavelmente terá uma “ideia Dumbo” de um elefante.
Já uma criança francesa, por sua vez, provavelmente terá uma “ideia Babar” de um elefante.
E claro, temos Dali, que de alguma forma, teve a “ideia Cisne” de um elefante.



Todos eles estão partindo do MESMO conceito.
Mas todos têm ideias DIFERENTES desse conceito.
Neste sentido, uma ideia é como água.
Ela pode ter diversas caras e assumir diferentes formas e contornos.
Porque é fluida, livre e de uma elasticidade contínua e interminável.
Acho que o que estou tentando dizer é que (e, de novo, isso é apenas a minha humilde opinião):
Uma ideia é... indefinida.
Um conceito é... definido.
E essa distinção faz toda a diferença, em termos criativos.
Confira o próximo post para saber por que. (uuhhhh, só no modo “cenas do próximo capítulos”, hein?… ;o))
Até breve!
PS: Ah, antes que eu esqueça: feliz 2023 a todos! É muito bom estar de volta!